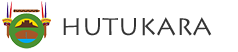A fotógrafa Claudia Andujar busca a empatia nas imagens que antecederam sua experiência com os ianomâmis

Claudia Andujar
Claudia encontrou no Brasil os seres humanos a quem reverenciaria por toda a vida
Os olhos de Claudia Andujar anulam toda a crueldade. Olhos cúmplices dos homens. Em 1938, quando a fotógrafa contava 7 anos de idade, eram também olhos tristes. Seu pai, Siegfried Haas, cujo sobrenome evoca aquele de um grande fotógrafo da vida e da natureza, Ernst Haas, havia sido morto no campo de concentração de Dachau. O engenheiro vivia com sua menina, nascida suíça, em Oradea, hoje pertencente à Romênia, quando os nazistas invadiram a Hungria e dizimaram toda a família, exceto um irmão médico, migrado aos Estados Unidos.
A mãe de Claudia, Germaine Guye, não era judia e pôde salvar a filha. Germaine falava francês, mas sua Claudine não sabia que língua usar. Talvez por isso tivesse enchido com poemas de idioma particular as paredes do seu quarto de dormir. No internato católico onde permaneceu após a morte do pai, ela transformara em ícone a figura da Virgem Maria, aquela que dera ao mundo alguém acreditado ser Deus.
A poesia da menina era feita na medida da necessidade e da dor, à espera de Germaine. Um olhar compassivo lançado a todos os excluídos, como ela, de sua família e de seu chão. Aos poucos, estenderia essa busca à pintura abstrata e à fotografia. “Eu sentia uma falta enorme de minha mãe”, explica hoje, quando uma exposição no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro, até 15 de novembro, faz emergir seus primeiros passos na fotografia.

O Brasil colonial da família baiana, 1962, como os viu Claudia Andujar
Nessas imagens das décadas de 1960 e 1970, invariavelmente surge representada uma referência à maternidade, à luz sobre quem chega ao mundo. A fotógrafa não faz questão de se esconder de seus objetos. Quer estar próxima dessa espécie de filhos desconhecidos, presentes, por exemplo, naquela Rua Direita onde certa vez ela colocou a câmera no chão e os observou.
Especialmente, nas fotos anteriores àquelas que se tornariam clássicas de sua autoria, a dos índios ianomâmis, iniciadas como um trabalho para a revista Realidade e aprofundadas pelos anos 1970 por meio de bolsas das fundações Guggenheim e Fapesp, surgem visões de empatia, de reverência ao ser humano que ela quer conhecer e com quem deseja se comunicar. Séries como as das famílias brasileiras, feitas para a revista Claudia, mas recusadas e nunca publicadas em livro, e outras em torno dos caiçaras, dos homossexuais, das parteiras, dos drogados, dos nordestinos de volta à terra natal, do cirurgião espírita Arigó, da natureza amazônica e até da modelo Sônia nua, são grandemente reveladoras de seu amadurecimento.

Na Rua Direita, em 1970, sua câmera observa filhos desconhecidos
Mas ela nunca havia pensado em mostrá-las como um trabalho autoral. Seu curador, Thyago Nogueira, diz que a artista entendia essa produção inconclusa ou comercial, pequena demais diante daquela com os ianomâmis, índios para quem, por meio de seu ativismo, ela até mesmo obtivera a demarcação de terras. Mas exibir esses começos ajudaria a compreender a qualidade de pintura, de síntese expressiva, que suas fotos têm.
Em dois anos de visitas semanais ao apartamento paulistano em que Claudia hoje vive só, aos 84 anos, entre objetos recolhidos de sua vivência indígena, o curador selecionou três centenas de imagens entre aproximadamente 15 mil, todas resultados de processos analógicos. A fotógrafa gostou de trabalhar em No Lugar do Outro, o título que Nogueira deu à exposição e que parece expressar à perfeição o sentido de sua arte. “Estava tão envolvida na questão ianomâmi que havia esquecido a primeira parte de minha vida como fotógrafa”, explica. “Avançada na idade, percebi que precisava reconstruir o que fiz e deixar tudo organizado. Quero saber, por meio dessas fotos, como entendo as pessoas, as relações.”

A vela que ilumina o nascimento em "Parteiras", 1966
Claudia Andujar encontrou no Brasil os seres humanos de que precisava e a quem reverenciaria por toda a vida. Aportara na capital paulista em 1955 para encontrar a mãe, casada com um romeno. Uma década antes, Germaine resgatara sua Claudine daquele internato para que vivessem na Suíça. Mas, aos 13 anos, inquieta com um lugar que não parecia seu, a jovem decidiria tentar a sorte em Nova York, na casa do tio sobrevivente. Com isso experimentava sua liberdade, mas também o ímpeto de se deslocar, de perseguir uma comunhão. Embora os Estados Unidos a deixassem igualmente recolhida, ela ali começou a pintar, movida pelo abstracionismo e pelo gestual de artistas como Nicholas de Stael. Claudia estudava Humanidades no Hunter College, enquanto atuava como intérprete da Organização das Nações Unidas. “Na verdade, nunca me senti em casa em Nova York, nem na Suíça”, atesta. “O contato com as pessoas no Brasil, pelo contrário, parecia caloroso, e eu era solar.”
No Brasil, ela começou a fotografar porque seu conhecimento limitado da língua a impedia de se expressar inteiramente. Claudia, que passaria a usar o sobrenome Andujar de seu primeiro marido, o espanhol Julio, optou pela fotografia dos anônimos, como em Picinguaba, no litoral paulista. Os seus eram pescadores emotivos, banhados em recolhimento e retidão. Na mesma época, ela retratou as famílias de estranha cordialidade em São Paulo, Minas Gerais ou Bahia, e vendeu a ideia da publicação para a revista Claudia que, no entanto, recusou as fotos.
O documental para além do documento, nessas imagens em torno da religiosidade e da servidão, evocava a grande arte feita no interior americano por W. Eugene Smith, um artista que ela conhecera em Nova York e até lhe presenteara com algumas de suas fotos. Os carajás foram os seus primeiros índios, sugeridos por Darcy Ribeiro, amigo do arquiteto Michel Arnould, um vizinho no prédio da Praça Roosevelt para onde ela se mudara. Na exposição, a Cachoeira de Santo Antônio, ao longo do Rio Jari, entre o Amapá e o Pará, traz seus primeiros experimentos com a intensidade da cor, auxiliada pelas tecnologias a ela apresentadas por seu segundo marido, o fotógrafo da Realidade George Love.

O nordestino no trem de regresso, 1969
Inventivo, Love não temia a luz, que parecia sempre partir de um misterioso ponto ao fundo. E Claudia, com ele, seguiu pela sobreposições de imagens, pelas releituras de fotos antigas acrescidas de luminosidades. Por si, isso parecia uma revolução, porque ela ousava para além do instante único, mais interessada em narrar. Mais ainda, buscava uma profundidade à moda daquela obtida pelo conterrâneo Robert Frank, que mostrara os americanos a eles próprios, em uma série cujo olhar era às vezes desfocado ou trêmulo. “Nunca fiz um curso de fotografia”, conta, adepta de pequenas Nikon. “Comecei por vontade própria de maneira a penetrar no Brasil e nas pessoas.”
De onde parte essa força que, em Claudia Andujar, anula toda a crueldade? Ela quer se conhecer, tanto quanto deseja o outro. Certa vez, sobre sua experiência em fotografar a modelo negra Sônia, viu no corpo humano o objeto mais belo que existe. “No mundo atual os homens têm menos consciência do próprio corpo”, escreveu. “Essa consciência, quando é clara e procurada, aumenta misteriosamente a beleza e o significado de corpo. Como se lhe atribuísse cores. Assim, sinto as mulheres azuis e os homens cinza. E o fascínio que pode exercer um corpo feminino, em quem observa e estuda, vai além da sensualidade, tornando-se objetivo perfeito para a criação artística.”

"Sinto as mulheres azuis. O fascínio do corpo vai além da sensualidade", diz Andujar